Teosofia e Espiritualidade Iniciática
- Nuno Ferreira Gonçalves

- 5 de fev. de 2021
- 32 min de leitura
A Ética da Inofensividade e do Desapego como Paradigma de Sustentabilidade
Comunicação no âmbito do III Congresso Lusófono de Ciência das Religiões que teve lugar em Lisboa, na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, entre 31 de janeiro e 05 de fevereiro de 2020. A comunicação consta das atas do Congresso:
Resumo:
Pretende-se com este breve estudo procurar perceber de que forma a religião em geral e a sua componente iniciática em particular podem ter uma palavra importante a dizer no que diz respeito à mudança de paradigma mediante a atual crise ambiental. Para tanto, será analisado um conjunto sucinto de preceitos éticos que podem ser surpreendidos quer no monaquismo cristão, quer nos principais sistemas filosófico-religiosos da Índia. Com o intuito de estender a investigação à dimensão esotérica do universo religioso, serão elencados alguns princípios teosóficos elementares com vista a verificar até que ponto a teosofia moderna pode encerrar uma mensagem ética pertinente do ponto de vista ecológico, e de que modo essa mensagem pode contribuir para as alterações de nível comportamental tão necessárias no momento presente.
Palavras-chave: Espiritualidade – Ecologia – Sustentabilidade
Abstract:
The aim of this brief study is to try to understand how religion in general and its initiatic component in particular can have an important word to say regarding the paradigm shift through the current environmental crisis. To this end, a brief set of ethical precepts will be analyzed, which can be surprised both in christian monasticism and in the main philosophical-religious systems in India. In order to extend the investigation to the esoteric dimension of the religious universe, some elementary theosophical principles will be listed in order to verify the extent to which modern theosophy can contain an ecologically pertinent ethical message, and how that message can contribute to the behavioral changes that are so necessary at the present time.
Keywords: Spirituality – Ecology – Sustainability
Introdução
O tema em epígrafe foi resumidamente apresentado no III Congresso Lusófono de Ciência das Religiões, que se realizou em Lisboa entre os dias 31 de janeiro e 05 de fevereiro de 2020, no âmbito do simpósio intitulado Chamados pelo Coração do Mundo: Gnose e Esoterismo enquanto fontes de inspiração ecológica, com a coordenação de Rui Lomelino de Freitas.
Reside no título do simpósio a razão que motivou a participação, não só pela enorme pertinência do tema, como porque o estudo científico e o desenvolvimento epistemológico do esoterismo enquanto fenómeno religioso estão a dar, para todos os efeitos, os primeiros passos em Portugal. Além disso, parece verificar-se, no âmbito da referida área de investigação, algum défice no desenvolvimento do estudo da teosofia enquanto objeto de análise científica, pelo que a presente redação visa também estimular o alargamento desse campo de pesquisa em particular.
Relativamente ao que mais importa reter do contexto temático desenvolvido no Congresso, parece gozar de crescente consensualidade o facto de que o nosso planeta atravessa hoje uma crise ecológica sem precedentes. O aumento exponencial da população mundial nas últimas décadas ameaça drasticamente os recursos da Terra, perigando a saúde dos ecossistemas. A poluição do ambiente produzida pela excessiva emissão de CO2 e a visível ineficácia no tratamento de lixos tóxicos obrigam a uma reflexão profunda e a uma alteração de paradigma que urge implementar.
Procurar-se-á verificar ao longo deste estudo até que ponto a crise ambiental vigente é o produto cultural de uma mentalidade geral inadequada, e se assim for, que nível de responsabilidade poderá ser imputado à religião. Simultaneamente, indagar-se-á de que modo a religião e, essencialmente, a espiritualidade de cunho iniciático poderão ter uma palavra a dizer para reverter a situação. Será que parte substancial da raiz do problema poderá ser utilizada para minimizar os efeitos desse mesmo problema?
Sabe-se que a religião é um aspeto que assume assinalável preponderância na cultura dos povos, pelo que se for possível surpreender determinadas lacunas na mensagem religiosa que conduziram a uma mentalidade lesiva do ponto de vista ecológico, talvez seja igualmente possível, paradoxalmente, resgatar-lhe valores essenciais para a reversão da problemática em questão. Semelhante contraste parece ser plausível dada a subjetividade da exegese teológica, ou seja, tudo depende dos conceitos que resultam da interpretação, os quais moldam inevitavelmente a mentalidade.
Um dos quadros iniciais apresentados na comunicação, enfatizava o contraste que podemos observar entre duas dimensões essenciais do pensamento religioso cristão, a saber:
1 – Uma dimensão teológica de influência aristotélica, partindo do pressuposto de que a natureza foi criada para usufruto humano;
2 – Uma dimensão mística de inspiração ascética, cultivada genericamente pelo monaquismo cristão, mas também pela face esotérica do cristianismo, em que a disciplina da inofensividade, da renúncia e do desapego era especialmente valorizada.
A primeira destas duas dimensões pode revelar-nos uma das razões que conduziram a mentalidade ocidental a um estado de profundo menosprezo pelo mundo natural. Diametralmente, a segunda dimensão revela-nos potencialmente o contrário. Porém, tudo indica que não foi esta, dada a dificuldade dos requisitos inerentes, a exercer qualquer tipo de influência sobre o tecido cultural no ocidente. Não se deve ignorar, todavia, que mesmo nos preceitos evangélicos da religiosidade cristã dita exotérica, constam ditames úteis para a alteração de paradigma cultural no que à relação homem/natureza diz respeito.
Alargando o contexto temático em análise, pode dizer-se que existe alguma ironia na constatação de que os preceitos éticos proclamados pelas religiões do mundo, enfatizados na sua componente ascética e iniciática, e invariavelmente confinados à esfera de vocação religiosa, ganham hoje uma aplicabilidade prática que é transversal a toda a população. Isto é, os preceitos basilares do ascetismo místico-religioso, radicalizados pelos seus mais fervorosos adeptos, apresentam códigos comportamentais que, se assimilados hoje, contribuiriam consideravelmente para a reversão da situação crítica atual. Desses preceitos destacam-se, desde logo, a inofensividade e o desapego. Encontramo-los, por exemplo, na primeira de oito etapas yoguicas propostas por Patañjali, como ‘refreamentos’ essenciais nos primeiros passos do caminho de ascese. A inofensividade em questão aplica-se a todas as formas de vida que não sejam nocivas, num pressuposto de amor e respeito pela natureza que urge reimplementar. No desapego, por sua vez, reside a chave de um modus vivendi absolutamente necessário para os dias de hoje, na medida em que o consumismo das sociedades modernas é inegavelmente inimigo da sustentabilidade.
Esses valores essenciais foram resgatados e preconizados pela teosofia moderna. Resta saber de que forma o pensamento teosófico, enquanto “fonte de inspiração ecológica”, pode contribuir para a reconstrução de uma mentalidade geral deficientemente formatada ao longos dos séculos, através dos dois instrumentos mais preciosos de que dispõe a nossa civilização: a cultura e a educação.
O estado do clima, o esgotamento de recursos e os problemas ambientais da atualidade
Tendo por norte os objetivos últimos do presente trabalho, afigura-se pertinente enfatizar três fatores relevantes no que à problemática ambiental diz respeito: a emissão excessiva de gases de efeito de estufa na atmosfera e o seu subsequente impacto ambiental; a acumulação de resíduos tóxicos de difícil tratamento e as suas repercussões nefastas ao nível dos mais diversos ecossistemas; e a crescente pressão exercida sobre os recursos limitados do planeta.
No que concerne ao primeiro fator, cabe asseverar que, segundo todos os indicadores, o planeta está, de facto, a ficar progressivamente mais quente, devendo-se esse fenómeno maioritariamente à acumulação de gases de efeito de estufa, nomeadamente CO2. Estudos exaustivos realizados pela comunidade científica de uma forma isenta apontam para uma subida média da temperatura da superfície terrestre na ordem dos 0,7˚C só nos últimos cem anos (Henson, 2009, p. 3). O consumo incomensurável de carvão, gás e petróleo ao longo dos últimos cento e cinquenta anos conduziu a um aumento de 37% de carbono na atmosfera. A essas excessivas emissões tóxicas, das quais se pode dizer literalmente que envenenam o ar que respiramos, junta-se ainda um conjunto alarmante de problemas que se prendem com a desflorestação (Henson, 2009, p. 32). A seca é, naturalmente, uma das consequências mais preocupantes desse conjunto de circunstâncias, do mesmo modo que, paradoxalmente, nos devem preocupar os ‘pequenos dilúvios’ que se vão fazendo sentir um pouco por toda a parte, o degelo, a subida de nível do mar, as alterações drásticas das correntes marítimas, entre tantos outros fatores associados.
Não bastando o excesso de gases no ar capazes de alterar drasticamente a biosfera, somos igualmente assolados, em termos ambientais, pela produção massiva de resíduos tóxicos cujos processos de tratamento se revelam claramente insuficientes. E aqui já estamos a tratar do segundo fator para o qual se pretende chamar a atenção. O caso dos plásticos é paradigmático, desde logo pelas notícias recentes quanto ao prejuízo da fauna marinha. Com efeito, qualquer cidadão preocupado com o dever cívico de reciclar, constata facilmente que o contentor reservado aos plásticos enche a uma velocidade vertiginosa. Desafortunadamente, os oceanos parecem tender a tornar-se um reservatório preferencial para o aglomerado de embalagens e de outros materiais plásticos que, por efeito da produção em excesso, não estamos a ser capazes de reciclar e reutilizar suficientemente.
O terceiro fator em destaque prende-se com a natureza finita dos recursos naturais. A capacidade inata do planeta, bem como o tempo necessário para suprir a matéria prima subtraída, não é proporcional à velocidade alucinante com que os meios de produção em massa extraem os recursos disponíveis na natureza (Gonçalves ; Schmidt, 2015, p. 2). Em suma, o planeta é incapaz de reproduzir matéria prima à velocidade com que esta é extraída. E o mais alarmante é que, quer a água, quer os bens alimentares se apresentam como os recursos que maior impacto sofrem por efeito das alterações climáticas (Henson, 2009, p. 147).
Pertinência da renúncia e do desapego preconizados pelo monaquismo cristão e a sua aplicação prática na atualidade
Ora, este conjunto de problemas ecológicos parece radicar, pelo menos em parte, em questões de ordem cultural. A mentalidade ocidental, que, por força do fenómeno de globalização, tem contagiado exponencialmente as culturas ancestrais do Oriente, continua a revelar a influência do pensamento aristotélico, o qual parte do pressuposto de que a natureza foi criada para usufruto do género humano (Almeida, 2007, p. 31). A esta postura antropocêntrica, cabe adicionar a preponderância que a teologia judaico-cristã assume na visão ocidental de domínio do homem sobre a natureza[1] (Almeida, 2007, p. 35). Trata-se de uma questão idiossincrática de fundo que começou por merecer a atenção de Lynn White na década de sessenta do século passado[2]. Para o historiador norte-americano, já no seu tempo preocupado com a degradação do ambiente, o problema reside na cosmovisão judaico-cristã, com a sua divindade antropomorfa, exterior e superior à natureza, tendo o homem por imagem tangível. Ora, tendo sido o homem criado à imagem e semelhança de Deus, cabe-lhe o direito de dominar e manipular a natureza, usufruindo de forma ilimitada dos seus inúmeros recursos.
White lançou o debate crítico para o desenvolvimento da ecoteologia – um novo campo de estudo das relações entre a crise ambiental dos nossos dias e o discurso religioso, nomeadamente o discurso judaico-cristão. A abordagem ecoteológica conduz-nos à dedução de que a arrogância, a agressividade e o menosprezo pela natureza são fruto do referido discurso (Santos, 2007, p. 521), advogando que só uma mudança coletiva de comportamento, tendo por móbile um estimulo tão forte como aquele que a religiosidade e a espiritualidade operaram na estrutura cultural dos povos, pode contrariar a tendência nociva atual. A ecoteologia apela, assim, a um novo estado de consciência sob o impulso de uma necessidade social, equiparável à motivação religiosa de outrora e que esteve na raiz do dealbar das várias religiões conhecidas. Semelhante tese remete-nos de certo modo para o objeto do presente estudo, o de procurar demonstrar que alguns aspetos da ética espiritual se transformaram numa necessidade prática de ordem social que deixou de ser exclusiva do universo confessional, votivo ou até mesmo iniciático.
Cabe aqui enfatizar os três Rs referidos por Henson (2009, p. 349): “reduzir, reutilizar, reciclar”, como novo paradigma comportamental de sustentabilidade. Ora, parece que, ironicamente, pode ser surpreendido no monaquismo cristão um conjunto de preceitos suscetíveis de inspirar – com o devido distanciamento da excessiva austeridade própria da vida monástica – uma série de comportamentos essenciais para fazer face à crise em análise, desde logo, através da redução no consumo – já que os monges, sobretudo os mendicantes, consumiam apenas o essencial – e da reutilização de bens, como se faz hoje, por exemplo, em Portugal, com os manuais escolares.
De acordo com Gonçalves e Schmidt (2015, p. 2), “a sociedade de consumo significa a incorporação de um padrão cultural específico (…). Por isso, esse fenômeno não pode ser enfrentado somente com leis, regulamentos, penalidades. A participação comunitária é de relevância extrema para a mudança de mentalidade”.
Terá a religião um papel importante a desempenhar nessa mudança? Será que o padrão cultural cristão, responsável por parte da postura geral de prepotência relativamente à natureza, pode paradoxalmente contribuir para a resolução do problema? Que valores fundamentais ficaram por transmitir no âmbito educacional cristão da civilização ocidental?
É sobejamente conhecida a passagem bíblica em que Jesus diz aos discípulos que “é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus” (Mt 19, 24). Não é necessário fazer uma leitura literalista desta passagem para perceber – até pelo que conhecemos da vida de Cristo e dos apóstolos – que o desapego pelos bens materiais é um valor inestimável do cristianismo primitivo. Foi este desapego, esta renúncia aos apelos mundanos, que o monaquismo cristão perseguiu ardentemente, com vista à possibilidade de um verdadeiro arrebatamento espiritual.
Contrariando diametralmente o que de mais puro podemos encontrar no pensamento cristão das origens, a modernidade ocidental veio reforçar o antropocentrismo aristotélico, dando origem à sociedade de consumo, e com ela a uma série de hábitos, práticas e atitudes visivelmente lesivos do ponto de vista ecológico. Surge um padrão novo, um modus vivendi absolutamente dependente de necessidades momentâneas; as sempre renovadas necessidades por tudo o que é novo, descartando tudo o que passa a ser considerado velho (cf. Zanirato ; Rotondaro, 2016, p. 77), mesmo que com relativamente pouco tempo de uso, como é o caso, por exemplo, dos telemóveis ou de outros artigos tecnológicos congéneres, os quais não entram em desuso por terem deixado de funcionar, mas porque o modelo seguinte já está disponível para aquisição. Estamos perante um padrão comportamental insustentável que urge alterar, sendo nesse sentido que, independentemente das convicções de cada um, o princípio de desapego implícito na mensagem cristã original, bem como noutros credos, serve tanto para crentes, como para agnósticos e ateus.
É provável que as constantes necessidades exteriores decorram da dificuldade patente em vivenciar o mundo interior. Numa sociedade em rápida transformação, em que uma enorme diversidade de informação percorre todo o globo num ápice, desaprendemos a escutar a voz interior, o silêncio. Talvez seja necessário voltar a perscrutar a intemporalidade desse não-lugar, exercitando o autoconhecimento e a contemplação extática.
Surpreendemos na cristandade uns quantos vultos cujo perfil de interioridade se revela inspirador. Bernardo de Claraval é um exemplo. Para o abade, o conhecimento de si, ou autoconhecimento, vem antes de qualquer conhecimento provindo do exterior, constituindo-se objeto capital da vida monástica. Trata-se de um requisito essencial da ascese espiritual, para a qual contribui subsequentemente o desapego face às coisas do mundo, sejam elas o dinheiro, o vestuário ou até mesmo a família (cf. Davy, 2005, pp. 123-124), o que, naturalmente, apenas se poderá aplicar a vocações puramente místicas.
Entramos aqui, de certo modo, na dimensão iniciática do misticismo cristão. Efetivamente, se considerarmos que iniciação, cujo prefixo in remete para interior, é um processo, uma via, que visa a conquista consciente da realidade interna, e que no âmbito da praxe cisterciense constituía condição sine qua non para o conhecimento de Deus, ou seja, consistia em algo como a “diligência inicial do homem em busca de Deus” (Davy, 2005, p. 122), então o autoconhecimento, ou conhecimento de si, é um aspeto essencial da via iniciática.
Determinadas deduções sugeridas pela psicologia junguiana corroboram a dimensão iniciática do autoconhecimento como experiência religiosa. Debruçando-se sobre os mistérios da alquimia, Jung compara o ovum philosophicum com um vaso de onde surge, consumada a opus alchymicum, o homem espiritual, interior, integral (Jung, 2019, p. 293). O vaso, um dos objetos tradicionalmente identificados com o Graal, é, em Jung, uma representação alquímica do si-mesmo (cf. Jung, 2019, p. 368), e, curiosamente, ainda segundo Jung (2019, p. 372), “Cristo, como ideia, é um símbolo do si-mesmo”.
Desenvolver o cristianismo na sua dimensão iniciática excederia certamente os limites estipulados para este estudo. Não obstante, importa abordar, ainda que muito sucintamente, o código ético dos cavaleiros-monges templários, tidos como a ordem iniciática por excelência da cavalaria ocidental[3]. Foi-lhes redigida a regra precisamente por Bernardo de Claraval, adequada a “guerreiros que tinham renunciado às deleitosas riquezas do século” (Howarth, 2004, p. 53), e no seguimento da qual, entre tantas outras determinações, era exigido o total despojamento de bens pessoais. Os bens indispensáveis utilizados pelo cavaleiro eram da pertença comum da Ordem. Aos cavaleiros era exigida pobreza, castidade, humildade e obediência (cf. Howarth, 2004, p. 54). Como é óbvio, o espírito iniciático templário consubstanciava-se numa via de renúncia cuja exigência não pode ser reclamada junto do homem comum, muito menos nesta era de facilidades e confortos tecnológicos, mas pode servir de inspiração para uma atitude mais comedida, solidária e fraternal, e, o que é muito relevante, menos egoística.
No que concerne mais particularmente ao respeito e amor pela natureza, Francisco de Assis é, naturalmente, o exemplo mais paradigmático. Anunciando também ele os benefícios espirituais de uma vida despojada de riqueza material e substituindo o berço abastado pela severidade do monaquismo mendicante, Francisco dedicou especial atenção à natureza, não apenas com o intuito de fazer dela um refúgio afastado do mundo – até porque passou parte significativa da sua vida a pregar o Evangelho em centros urbanos emergentes –, mas por ver nela o reflexo do amor do Criador (cf. Clouse, 1995, pp. 272-273). O Cântico do Irmão Sol é uma apologia franciscana à criação, estando nele bem patente a evocação maternal da terra, governanta e sustentadora de toda a vida, muito longe do reservatório de recursos ilimitadamente disponíveis para satisfazer a prepotência antropocêntrica da cultura ocidental dita cristã.
Citando Jaime Cortesão, diz-nos António Quadros relativamente aos pressupostos de índole espiritualista na matriz da expansão marítima portuguesa de quinhentos:
“(…) os próprios conceitos de expansão ecuménica da cristandade e de um proselitismo religioso viandante terão nascido (…) com a Ordem Franciscana, cujos frades mendicantes, ao invés de permanecerem nos Conventos, em vida contemplativa e ascética, como faziam as outras Ordens (…), saíam para os caminhos do mundo, levando aos povos a palavra de Cristo e o seu exemplo de despojamento, humildade e fraternidade para com os humildes e mesmo para com os gentios.” (Quadros, 2020, p. 333)
O ideal franciscano de pobreza foi posto em causa durante o pontificado de Inocêncio IV, em meados do século XIII, provocando uma cisão no seio da ordem franciscana, colocando de um lado os que pretendiam conservar os votos originais do fundador, e do outro aqueles que procuravam um compromisso entre as pretensões pontificais e a regra antiga da Ordem. Os primeiros ficaram conhecidos por espirituais ou fraticelli, que, inspirados pelo misticismo milenarista do abade calabrês Joaquim de Fiori, se recusaram a ceder às investidas secularistas do papado (cf. Finucane, 1995, p. 343).
Os franciscanos, a par dos cistercienses e dos florenses, estabeleceram uma das principais vias de transmissão dos ideais joaquimitas na Europa (cf. Bruneti, 1974, p. 58). Os ‘espirituais’, em particular, foram os arautos da teoria joaquimita dos três Reinos, ou Idades, vaticinando fervorosamente o advento paraclético do terceiro Reino, isto é, o Império do Espírito Santo (Quadros, 2020, p. 333). Este Reino, ou Império, apresenta algumas analogias simbólicas com o reino imaginário do Graal, já que em ambos os casos parece ser possível surpreender a alusão subtil a um ‘não-lugar’ onde se encerra a utopia do retorno a um estado de pureza original, ou seja, a um estado de inocência e de inofensividade próprios da genuinidade infantil. Na visão de Agostinho da Silva (2000, p. 255), “restaurar a criança em nós e em nós a coroarmos Imperador, eis aí o primeiro passo para a formação do Império”. Este retorno à criança em nós terá de obedecer primeiro a uma revolução individual para depois se refletir no plano coletivo, através de uma organização de ordem religiosa superior, ecuménica, dado que o dito retorno já é em si uma experiência religiosa de cariz transpessoal e universal, “uma ordem de todas as religiões, uma ordem fundada nas três liberdades tradicionais e essenciais de não possuir coisas, de não possuir pessoas e de não se possuir a si próprio” (Silva, 2000, p. 257), ou seja, uma ordem em que a ânsia de ‘ter’ desaparece mediante a simplicidade de ‘ser’.
Exemplos de renúncia, desapego e inofensividade nas religiões do Oriente
A renúncia e o desapego preconizados pelo monaquismo cristão encontram paralelo nas culturas, filosofias e religiões do Oriente. No hinduísmo, herdeiro da antiga religião védica, a doutrina da renúncia assume especial significado, desde logo porque, no âmbito da ‘antropovisão’ hindu, só renunciando aos deleites, ambições e glórias mundanas, se poderá alcançar mokṣa, isto é, a salvação.
No Bhagavad Guitá, um dos ex libris da literatura épica e religiosa da Índia, podemos ler o seguinte:“Aquele que, depositando os seus atos no Senhor Supremo, abandona todo o apego, quando age não é mais atingido pelo mal do que a folha de lótus o é pela água” (C. 5: V. 10). É bem explícita nesta passagem a disciplina do desapego como condição essencial para a abolição de todo o mal, tendencialmente conotado como ignorância por parte do pensamento filosófico indiano. Em passagem posterior, é dito que, “com o coração livre de apego, nisso consistindo a sua verdadeira felicidade, o sábio encontra-se a si próprio” (C. 5: V. 21), o que nos remete para uma inevitável analogia com o autoconhecimento da praxe ascética cisterciense de que se falou anteriormente.
Genericamente, as cosmovisões da Índia enfatizam a relatividade óbvia dos bens e valores mundanos, já que eles são impermanentes, logo, inserem-se numa realidade relativa que chega a ser considerada ilusória. Assim, depositar todas as expetativas naquilo que não pode permanecer, que é efémero e transitório, é considerado um erro, fruto da ignorância. O mesmo é dizer que, contrariando o complexo de supremacia racional patente no modus vivendi do mundo ocidental, a corrida à satisfação efémera conferida pela posse de bens materiais, estatuto, poder ou dinheiro, pode ser considerada, do ponto de vista oriental arcaico, pura ignorância. No seguimento da passagem anterior do Bhagavad Guitá, podemos ler ainda que, “os prazeres nascidos de contactos externos, na verdade, dão origem ao sofrimento, porque, ó filho de Kuntī, eles têm um começo e um termo. O homem sensato não vai buscar neles a sua alegria” (C. 5: V. 22).
No budismo encontramos, naturalmente, uma ordem de ideias muito semelhante, designadamente no que diz respeito ao sofrimento e às suas causas. As Quatro Nobres Verdades, eixo antroposófico axial da doutrina salvífica de Buda, perfazem uma tetralogia que trata frontalmente a problemática do sofrimento, partindo do entendimento/aceitação para a solução/libertação. A primeira é a verdade sobre o sofrimento, isto é, a noção de que o sofrimento é um fator inextrincável da condição humana, sujeita à dor, à doença e à morte, bem como à natureza insaciável dos ardores sencientes e, ainda, à absoluta impermanência do plano sensível. Segue-se a verdade sobre a origem do sofrimento, a qual reside essencialmente no desejo, assumindo aqui uma conotação inferior, como desejo ardente, passional, ávido de satisfação sensível, e que acaba por residir no coração de tanha, ou trishna (Humphreys, 1951, p. 105), que tanto vale por apego à vida, no seu sentido mais intrinsecamente material. A terceira é a verdade sobre a cessação do sofrimento, que visa a supressão de tanha, pois que eliminada a causa elimina-se automaticamente o efeito. Naturalmente, a sessação dos desejos inferiores implica a renúncia aos objetos sensíveis desses desejos. Finalmente, temos a verdade sobre o caminho óctuplo, ou “Óctupla Senda Sagrada” (Humphreys, 1951, p. 107), a via do Buda, que, segundo Robert (cf. 1997, pp. 433-437), alude às oito etapas percorridas pelo candidato à iluminação, tendo por modelo o percurso de Siddhartha Gautama, o Buda, desde a preexistência à iluminação. A quarta etapa desse percurso fica sinalizada pela saída de casa de Siddhartha, o que implicou grandes sacrifícios, como o abandono da família – inclusive mulher e filho –, do conforto do lar e da totalidade dos interesses mundanos, para encetar o sendeiro estreito da grande renúncia. Cabe ainda referir que existe uma série de oito preceitos éticos fundamentais diretamente associados ao caminho óctuplo, dos quais o quarto consiste em adotar uma conduta correta, tendo por primeiro mandamento “não matar nenhum ser vivo” (Gaarder, 2002, p. 62). Este preceito de absoluta inofensividade relativamente à totalidade dos seres viventes aplica-se naturalmente ao respeito que é devido à natureza.
Não é possível falar integralmente de filosofia oriental sem referir o yoga como disciplina em que os princípios em análise assumem assinalável destaque. Olhando para o yoga sūtra de Patañjali, também conhecido por yoga clássico, devendo à Sociedade Teosófica parte substancial da sua reabilitação no Oriente e subsequente projeção no Ocidente, surpreendemos uma série de oito etapas que iniciam com yama, a qual perfaz um conjunto preliminar de cinco refreamentos imprescindíveis para a realização ascética. Inserem-se nesse conjunto dois refreamentos que interessa destacar no contexto em análise, a saber: ahimsâ – inofensividade – e aparigraha – desapego. Portanto, a via ascética sugerida por Patañjali exige uma etapa preliminar em que a observância dos refreamentos referidos é fundamental (cf. Eliade, 2000, p. 66).
Importa notar que o yoga sūtra propõe um itinerário longo de elevadíssimo grau de dificuldade. De acordo com Eliade (2000, p. 121), “o seu objetivo é, desde o início, muito preciso: libertar o homem da sua condição humana, conquistar a liberdade absoluta, realizar o incondicionado”. Trata-se, de certo modo, de um itinerário iniciático de fundo, pois a iniciação parece procurar forçar, invariavelmente, um estado de superação inalcançável sem ela. Na prática religiosa comum, dita exotérica, o refreamento dos instintos básicos e das tendências consideradas inferiores constitui, sem dúvida, um requisito soteriológico de enorme relevância. Porém, a sua não observância abre uma lacuna que pode ser preenchida pelo arrependimento, confissão, indulgência, etc. A praxe iniciática intrinsecamente esotérica, pelo contrário, atribui às exigências salvíficas um teor operativo absolutamente incontornável, isto é, afigura-se completamente impossível avançar na senda sem que sejam indubitavelmente assegurados os requisitos éticos preliminares. No que respeita ao yoga clássico em análise, diz-nos ainda Eliade (2000, p. 67) que “os refreamentos não proporcionam um estado yoguico, mas um estado humano «purificado», superior ao do comum dos mortais. Esta pureza é indispensável às etapas ulteriores”. Ora, o carácter de indispensabilidade patente essencialmente na dimensão iniciática da experiência religiosa parece estabelecer um paralelo sugestivo com a imprescindibilidade de uma mudança da atitude geral mediante a problemática ambiental, em que os refreamentos referidos surgem agora como essenciais para a sobrevivência de todos.
O contributo do pensamento teosófico
No contexto esotérico da espiritualidade iniciática opta-se por destacar aqui a teosofia, não apenas pelo seu pretenso carácter sintetizante, como porque as preocupações teosóficas prendem-se, em larga escala, com a busca do equilíbrio perfeito entre o homem, a natureza e o cosmos. Não se quer dizer com isto que essa busca constitua uma preocupação exclusiva dos teósofos, mas parece ser possível encontrar nas suas aspirações em particular um anseio muito forte por entender e explicar as leis naturais e as forças ocultas que as regem.
Talvez seja importante começar por dizer que a teosofia não é vista pelos teósofos da mesma forma que a vê o cientista das religiões. O cientista obriga-se a uma observação isenta baseada no que de mais factual os documentos e as evidências históricas lhe podem transmitir com um mínimo de segurança, observando regras de ordem metodológica que o habilitem a chegar a conclusões cientificamente aceitáveis e que, preferencialmente, contribuam de forma efetiva para o alargamento do campo epistemológico do objeto de estudo. Nesse sentido, a teosofia, como qualquer outra corrente de pensamento esotérico, é suscetível de um enquadramento cronológico concreto a partir do qual se pode aferir quanto às suas reais influências e origens. Já que o movimento teosófico remonta institucionalmente a uma época relativamente recente – último quartel do século XIX –, então ele pode ser tido como um dos legatários hodiernos da tradição hermética, no que diz respeito às possíveis influências de matriz ocidental, podendo ser simultaneamente visto como um movimento herdeiro das filosofias religiosas da Índia, designadamente o hinduísmo e o budismo[4], ainda que nas suas alegadas vertentes esotéricas. Todavia, o teósofo não vê a coisa assim. Para ele, teosofia é sinónimo, tal como a etimologia do nome indica, de sabedoria divina, perene e universal, matriz preexistente de todas as religiões, filosofias e ciências humanas. Tratando-a, de uma forma algo genérica, por filosofia esotérica, Helena Petrovna Blavatsky, cofundadora da Sociedade Teosófica, defende que a teosofia “concilia todas as religiões, despe-as das suas vestimentas humanas exteriores e demonstra que a raiz de cada uma delas é a mesma de todas as demais religiões” (Blavatsky, 1995, p. 45). Constata-se assim que a questão é colocada no inverso. Para o teósofo, as correntes de pensamento hermético ocidental, da alquimia à rosacruz, são expressões esparsas de uma sabedoria arcana fundamental a que chama teosofia, o mesmo acontecendo relativamente às religiões-filosofias do Oriente, onde, aliás, a teosofia já seria conhecida por gupta-vidyâ[5]. De acordo com Souza (2001b, p. 13), “os ensinamentos da Doutrina Arcaica, por outro nome Teosofia, têm uma origem divina que se perde na noite dos tempos”.
Observa-se a partir do exposto que o teósofo assume, para todos os efeitos, uma postura religiosa, no sentido de fé inabalável num conhecimento superior, de origem divina, que perfaz o manancial matricial e simultaneamente sintético de todas as ciências desenvolvidas pelo género humano. O objeto dessa fé não pode, porém, contrariar em momento algum as descobertas prodigiosas operadas pela ciência moderna. Esse parece ser um postulado teosófico fundamental: Toda a prova científica verdadeiramente cabal e irrefutável é forçosamente a confirmação de uma causa profunda previamente contemplada pela sabedoria primordial, mas cujo efeito era até então desconhecido. Trata-se naturalmente de uma afirmação difícil de defender plenamente, talvez porque a doutrina teosófica, tal como foi sistematizada pelos seus mais ilustres arautos, é ela própria o revérbero ténue e condicionado da verdade em estado absoluto. Não obstante, essa disposição revela a intrínseca vontade de construir pontes sólidas entre a ciência e a espiritualidade. Diz-nos C. Jinarajadasa, quarto presidente internacional da Sociedade Teosófica:
“Não há preparação melhor para uma clara compreensão da Teosofia do que um conhecimento amplo, geral, da ciência moderna (…). Quando diferem, não é porque a Teosofia questiona os factos do cientista, mas simplesmente porque, antes de chegar a conclusões, leva em conta factos adicionais que a ciência moderna ignora ou ainda não descobriu. A Ciência é una, desde que os factos sejam os mesmos; o que é rigorosamente científico é teosófico; da mesma forma, o que é verdadeiramente teosófico está inteiramente em harmonia com todos os factos e, por conseguinte, científico no mais alto grau.” (Jinarajadasa, 2014, p. 19)
Já se disse que a teosofia blavatskyana, através dos órgãos de divulgação da Sociedade Teosófica, deu o seu contributo para a reabilitação da filosofia yoga na Índia e subsequente expansão no mundo ocidental. Foram várias as polémicas que se desenvolveram em torno de Blavatsky e dos seus pares, mas o certo é que a teosofia moderna apresenta no seu corpo doutrinário as premissas basilares que aqui importa reter.
É verdade que a teosofia alega que o homem, em termos hierárquicos, é o diadema da natureza tangível. Esse facto decorre, segundo os teósofos, de um processo evolutivo a que é submetida a própria vida, que em sucessivas vagas combina elementos que vão dando progressivamente forma a quatro reinos da natureza visível, entre o mineral e o hominal, passando pelo vegetal e pelo animal (cf. Jinarajadasa, 2014, p. 33). É notório nesta tese um distanciamento intencional entre o reino animal e a humanidade. Efetivamente, a antropogénese teosófica refuta a inclusão do homem no reino animal, considerando que o género humano é o corolário das conquistas evolucionárias conquistadas pela vida nos reinos inferiores ao longo de vastos períodos (cf. Leadbeater, 1921, pp. 53-54). Não obstante, o pensamento teosófico reclama uma colaboração consciente e proficiente com o mundo natural, em que o direito à evolução assiste a todos os seres, independentemente da escala hierárquica em que se encontram, não sendo aceitável que essa evolução natural seja posta em causa. “Auxilia a natureza e trabalha com ela – recomenda Blavatsky (1998, p. 66) –; e a natureza ter-te-á por um dos seus criadores, obedecendo-te”, insinuando-se com isto que o homem é um agente determinante no progresso evolucional das espécies que coabitam o planeta. Nesta perspetiva, o homem assume uma enorme responsabilidade, pois não apenas pode servir-se do meio natural, como é seu dever servi-lo, protegê-lo e garantir a sua subsistência, numa relação de perfeita reciprocidade que visa o equilíbrio perfeito. No dizer de C. W. Leadbeater:
“Vendo que há um Poder supremo a dirigir todo o curso da evolução, e vendo que Ele é omnisciente e omniamante, o teósofo repara que tudo quanto existe dentro deste esquema deve ser destinado a conseguir o seu progresso. Compreende que o passo da escritura onde se diz que todas as cousas estão trabalhando juntas para o Bem, não exprime um conceito puramente imaginativo, nem um mero desejo benévolo, mas sim um facto científico.” (Leadbeater, 1921, p. 173)
A renúncia, a inofensividade e o altruísmo são valores reiteradamente sublinhados nos escritos teosóficos. Junta-se-lhes a desvalorização da personalidade, que é tida como um aspeto inferior do ser humano, em contraste com o aspeto superior, interno, espiritual e transpessoal. Nessa medida, os seres afiguram-se unidos por um elo comum, uma corrente de vida que se desdobra infinitamente, mas que não deixa em momento algum de ser una. Segundo Jinarajadasa (2014, p. 239), “o ser humano, que é uma parte infinitesimal do Todo, é, apesar disso, e de forma misteriosa, ele próprio esse Todo”. Este género de convicção, claramente influenciada pelo legado sapiencial oriental, promove naturalmente um sentimento de empatia e de fraternidade relativamente a tudo o que constitui o mundo exterior, do qual o teósofo procura não se desvincular, dado que para ele a perceção de separatividade é ilusória. De acordo com esta perspetiva, causar dano a outrem ou prejudicar o progresso salutar e regular da natureza tem por inexorável repercussão o prejuízo próprio, já que a evolução universal se faz pela totalidade e não apenas pelas partes supostamente mais privilegiadas ou mais fortes.
Na série de requisitos para a via do discipulado, elencados por Helena Blavatsky, consta que o candidato deve dotar-se de “propósitos desinteressados, caridade universal e piedade por todos os seres viventes” (Leadbeater, 1999, p. 56); deve também “renunciar a todas as vaidades da vida e do mundo” e “os seus pensamentos devem estar permanentemente fixos no seu coração, afugentando dele qualquer pensamento hostil para qualquer ser vivente. O coração deve estar saturado do sentimento de não-separatividade dos demais seres e de tudo na Natureza; de contrário, nenhum êxito será possível” (Leadbeater, 1999, p. 58).
O conjunto de requisitos em destaque, é demonstrativo da correlação que os teósofos estabelecem entre a inofensividade e o sentimento de não-separatividade, retomando, de certo modo, o princípio de anulação do ego, tão caro, por exemplo, à filosofia iniciática sufi. Talvez para os ocidentais, esta seja uma questão particularmente difícil de assimilar, já que a cultura ocidental, por motivos que não cabe aqui perscrutar, valoriza o eu pessoal e todo o conjunto de esforços imediatos que providenciem o seu sucesso visível, prático e efetivo. Todavia, esta postura egocêntrica deixou de ser apenas uma questão moral ou filosófica. Os indicadores disponíveis e a realidade dramática com que nos deparamos hoje exigem cada vez mais a descentralização do eu pessoal, do interesse próprio, em prol do bem comum.
Se forçarmos a inserção da teosofia blavatskyana no contexto epistemológico do esoterismo ocidental, – já que, apesar de procurar resgatar essencialmente o sumo das religiões orientais, a Sociedade Teosófica foi fundada por ocidentais em Nova York no ano de 1875 –, encontramos uma particularidade muito clara: A doutrina teosófica transmitida por Blavatsky e pelos seus pares é o produto do contacto privilegiado com Mestres de Sabedoria ocultos em ashramas inacessíveis dos Himalaias. É verdade que encontramos algo parecido com isto nos Invisíveis do credo rosacruz, mas a crença teosófica numa hierarquia de seres ocultos parece raiar níveis de transcendência e de complexidade aparentemente inéditos e inexcedíveis.
O principal testemunho da alegada existência desses Mestres – inevitável catalisador de suspeição por parte do congénito ceticismo ocidental – reside na vasta correspondência epistolar trocada entre eles e alguns teósofos eminentes. Em carta datada de 19 de outubro de 1880, com a assinatura de Koot’ Hoomi Lal Singh, são notórios os fundamentos que nortearam o modus operandi da Sociedade Teosófica, designadamente aqueles que ora submetemos a análise. A missiva parte em resposta a uma proposta de fundação de uma Loja independente com a qual os Mestres de Sabedoria eram convidados a colaborar diretamente e sem o escrutínio dos fundadores da S. T.[6] Essa colaboração seria feita sob a forma de instrução, para que posteriormente os instruendos pudessem demonstrar no Ocidente a existência de forças ocultas da natureza desconhecidas da ciência académica. A proposta foi avançada por A. P. Sinnett e A. O. Hume. Para além de condenar o menosprezo e a ingratidão demonstrados relativamente ao esforço e dedicação dos fundadores, Koot’ Hoomi, responde da maneira que se segue, dirigindo-se ao primeiro dos proponentes mencionados:
“Para nós, estas motivações, sinceras e dignas de toda a consideração do ponto de vista mundano, parecem – egoístas (…). Estas motivações são egoístas porque você deve saber que o principal objetivo da S. T. não é tanto satisfazer aspirações individuais, e sim servir aos nossos semelhantes; e o valor real da palavra egoístas (…) tem para nós um significado peculiar que pode não existir para você (…). Talvez compreenda melhor o nosso significado ao saber que, do nosso ponto de vista, as mais elevadas aspirações pelo bem-estar da humanidade ficam manchadas pelo egoísmo se na mente do filantropo ainda houver uma sombra de desejo de autobenefício (…)”.[7]
Não é suposto debater, no âmbito de um estudo científico como este, o nível de verossimilhança da alegada autoria da missiva. Cabe apenas procurar entender os valores pelos quais se norteia o pensamento teosófico e o quanto ele pode contribuir para a mudança de paradigma da mentalidade egocêntrica atual. Em Portugal, Félix Bermudes foi um precursor entusiasta desses valores. Na sua obra de referência dedicada à “sabedoria divina”, A Conquista do Eterno, insere uma carta dos deveres do homem onde subscreve os preceitos éticos advogados pelo movimento teosófico. Logo no primeiro artigo consta que “todos os que deliberada e sinceramente resolvem enveredar pelo Caminho que conduz ao Homem Perfeito têm de relegar para segundo plano o interesse pelos seus direitos, para focarem toda a sua consciência sobre a extensão dos seus deveres” (Bermudes, 1974, p. 173). Esta questão afigura-se pertinente e constitui um desafio de grande atualidade, a julgar pelas necessidades ambientais prementes. Com as declarações de direitos humanos e as conquistas constitucionais que protegem juridicamente as liberdades e garantias dos cidadãos nos países ditos civilizados, é muito natural que nos tenhamos focado, no decorrer das últimas décadas e de uma forma aparentemente excessiva, essencialmente nos nosso direitos, e muito pouco naqueles que são os nossos deveres cívicos, aplicáveis hoje não só ao princípio de alteridade dentro do género humano, como também relativamente às restantes espécies e ecossistemas do planeta. Quiçá estejamos perante uma lacuna educacional e cultural que urge preencher.
A carta dos deveres do homem prossegue, elencando premissas desafiadoras de que vale a pena apresentar uma breve síntese: Consta no terceiro artigo que “o lema da Fraternidade Universal não deve ser apenas proclamado, mas exemplificado e vivido”, o que o artigo seguinte complementa, dizendo que “o Amor que floresce na alma de um Servidor deve ser estendido a todos os seres e a todas as coisas”, remetendo para o apelo à inocuidade constante no quinto artigo, ou seja, “a Lei da Inofensividade é imperativa para o Homem que encetou o Caminho da Libertação e trás consigo o dever de proteger a vida em todas as formas que não sejam nocivas” (Bermudes, 1974, p. 173).
Percebe-se que a cosmovisão teosófica se ocupa a escalonar hierarquicamente a diversidade de irradiações da vida una, por recusar o princípio de igualdade na natureza, mas que, paralelamente, exige uma postura de máximo respeito para com essa diversidade, ora inserindo o homem nela, ora advogando a imprescindibilidade de uma postura de inofensividade mediante ela, ou seja, tudo o que de contrário podemos encontrar atualmente no modus operandi das sociedades hodiernas.
Nasceu no Brasil, em finais do primeiro quartel do século XX, um movimento teosófico peculiar que, não obstante a assumida autonomia, herdou os conceitos basilares da teosofia blavatskyana. Suscita algum interesse por ser uma corrente lusófona dentro do universo teosófico, transmitindo alguns fundamentos inovadores à luz das particularidades semasiológicas da língua portuguesa. Trata-se da atual Sociedade Brasileira de Eubiose fundada por Henrique José de Souza em 1924, com a designação original de Dhâranâ – Sociedade Mental Espiritualista, que passou a denominar-se Sociedade Teosófica Brasileira[8] já em 1928[9]. Este ramo lusófono partiu dos mesmos pressupostos filosóficos que nortearam a S. T. de Blavatsky. Note-se que dhâranâ expressa uma das derradeiras etapas do yoga sūtra de Patañjali (cf. Eliade, 2000, p. 88). O termo eubiose, por sua vez, apesar de ser um neologismo lavrado pelo fundador, remete inteiramente para o conjunto de princípios éticos preconizados pelos precursores do movimento teosófico moderno. Desdobra-se etimologicamente no grego eu-biós-ósis. O prefixo eu leva o significado de bem, bom, belo; biós significa vida; ósis é ação[10], isto é, viver e agir em função do bem, do bom e do belo. No dizer do fundador, “Eubiose é a ciência da integração do Homem com o Todo, como fator equilibrante”, ou de uma forma mais lata, “é a ciência da vida e, como tal, é aquela que ensina os meios de se viver em harmonia com as leis da Natureza e consequentemente com as leis universais, das quais as primeiras se derivam” (Souza, 2001a, p. 10).
Em Os Mistérios do Sexo, Henrique José de Souza lembra que “a Terra é um ser vivo” (Souza, 2001b, p. 3), ou seja, não é apenas um rochedo esférico inerte e abundante em recursos para nós explorarmos ad infinitum e a nosso bel-prazer. Já no seu tempo, o fundador da atual S. B. E.[11] condena veementemente o modo como a humanidade trata a sua casa comum. Entende que esse facto é suficiente para justificar o secretismo erguido em torno de determinado tipo de conhecimento, dito oculto, já que o egoísmo perverso ainda campeia no mundo, e o conhecimento é, não raro, empregado por homens sem escrúpulos contra os seus semelhantes. Considera que isso é um crime de lesa evolução e adianta que:
“Crimes dessa natureza são não só os previstos no Código de Manu, mas também todo o ato praticado contra a vida e os direitos do homem e da própria Terra, como ser vivo que é, a qual vem suportando, ao invés dos cuidados restauradores devidos pelos seus filhos, que se nutrem da sua seiva, terríveis bombardeios de imprevisíveis consequências intra e extraterrenas, abrindo fendas profundas, dolorosas chagas a clamarem a perversidade de almas inconscientes e formando na atmosfera faixas de radiações cujo tremendo efeito deletério recai sobre vastas áreas, envenenando os ares e as águas, contaminando os alimentos, tanto os de origem vegetal como animal, afetando portanto gravemente a saúde pública, conforme tem sido divulgado nos trabalhos de notáveis médicos e higienistas.” (Souza, 2001b, p. 14)
É notório que o texto refere particularmente os efeitos nocivos do uso inadequado da energia atómica que atormentaram o planeta durante toda a segunda metade do século XX, nomeadamente através da detonação experimental, em larga escala, de ogivas nucleares. Hoje novos problemas se colocam, mas a mensagem continua a aplicar-se com admirável atualidade, na razão do que o autor parecia quase vaticinar quando perguntava: “Que futuro podemos esperar de uma humanidade incoerente e hipócrita? Os próprios dirigentes dos povos que se dizem supercivilizados são os que maltratam e ofendem este prodigioso corpo que nos dá a vida” (Souza, 2001b, p. 14). Este corpo é, na perspetiva do teósofo e certamente dos seus congéneres espiritualistas, o corpo sagrado da Terra Mãe, incondicionalmente generosa, flagelada de há longo tempo a esta parte pela ingratidão dos seus próprios filhos, mas merecendo hoje um olhar radicalmente diferente, sob pena de nela nada subsistir num espaço assustadoramente curto de tempo.
Conclusão
A primeira conclusão a retirar desta breve investigação consiste na forte possibilidade de que a atual situação ambiental é, pelo menos em parte, o produto de uma cultura antropocêntrica milenar com direta repercussão na mentalidade consumista hodierna, de parca sensibilidade ecológica e pouco vocacionada, presumivelmente por razões educacionais que urge repensar, para a construção de elos empáticos com o meio natural.
Reconhece-se o contributo prestado por diversas disciplinas da ciência contemporânea para a conscientização social relativamente à crise ambiental do nosso tempo. Não obstante, presumindo-se que o problema radica substancialmente em questões de ordem cultural, faz-se necessário continuar a indagar as causas implícitas nos sistemas de crenças religiosas, nomeadamente aqueles que se prendem com a cultura judaico-cristã e subjacente antropocentrismo de matriz aristotélica. Para o efeito, é suposto que a área de ciência das religiões, com a sua intrínseca vocação interdisciplinar, possa dar um inestimável contributo.
Os benefícios suscetíveis de serem retirados dos valores éticos de cariz religioso são igualmente dedutíveis. Pretende-se dizer com isto que, paradoxalmente, ecoam no misticismo cristão princípios inapreciáveis do ponto de vista ecológico, os quais encontram um sugestivo paralelo com as tradições, filosofias e religiões do Oriente.
No que diz respeito à dimensão iniciática, implicitamente esotérica, das religiões, e fazendo jus à temática do simpósio em que a comunicação do texto em desfecho se inseriu, chega-se à conclusão de que a componente ética, transversal às religiões em geral, é especialmente enfatizada e tida por sustentáculo preliminar do progresso espiritual.
Perscrutando essencialmente a doutrina teosófica, desde logo pela sua vocação universalista e sintetizante, denota-se um elevado grau de exigência ética e iniciática, o que torna a teosofia inevitavelmente impopular. Não obstante, os princípios basilares de altruísmo, desapego e inofensividade inerentes, revelam-se hoje absolutamente necessários, sem que com isso se pretenda pôr aqui em causa o direito sagrado ao livre-pensamento e às convicções ideológicas ou confessionais de cada um. Não é a teosofia ou qualquer uma das suas congéneres esotéricas em si que interessa aqui relevar, mas sim o que de mais essencial as suas alegações comportam para o melhoramento da situação crítica atual. A iniciação de índole esotérica encerra um sentido transpessoal de interioridade e de renúncia cuja utilidade abandonou o campo teórico para passar a ser uma necessidade prática. Ou seja, mesmo que vista de uma perspetiva meramente simbólica, a tradição iniciática comporta valores que, ao que tudo indica, vale a pena assimilar e, na medida do possível, tentar colocar em prática.
Finalmente, talvez a conclusão mais pertinente a retirar deste breve estudo resida no facto de que, independentemente dos credos e respetivos corpos doutrinários, no âmbito do diálogo inter-religioso as questões ambientais devem cada vez mais ser salientadas, debatidas e conduzidas aos seus melhores efeitos.
Notas: [1] É importante notar a infusão do pensamento aristotélico, ainda que com as devidas adaptações, na teologia cristã da Alta Idade Média, muito particularmente por virtude dos subsídios filosófico-teológicos lavrados por Tomás de Aquino (cf. Küng, 1999, pp. 102-104). [2] Vide Lynn White in The Historical Roots of Our Ecological Crisis. [3] Existe um sem número de autores a partir dos quais poderia ser fundamentada, em qualquer circunstância, esta proposição. É convicção de Julius Evola, por exemplo, que “os Templários tinham um rito secreto de caracter autenticamente iniciático” (Evola, 1978, p. 185); Adalberto Alves, por sua vez, ao referir-se ao contacto da milícia salomónica com a Terra Santa, crê que a Ordem terá tido “acesso ao saber iniciático daquelas paragens, onde circulavam as sabedorias essénicas, gnósticas, cabalísticas e, sobretudo, islâmicas” (Alves, 2009, p. 51). [4] Cf José Manuel Anes in Introdução a A Voz do Silêncio de Helena Blavatsky, 1998, p. 13. [5] Cf. O Verdadeiro Caminho da Iniciação de Henrique José de Souza, 2001, p. 9. [6] Sociedade Teosófica. [7] Cartas dos Mahatmas para A. P. Sinnett, Vol. I (2001). [8] Não confundir com Sociedade Teosófica no Brasil. [9] Cf. O Verdadeiro Caminho da Iniciação de Henrique José de Souza (2001), p. 7. [10] Cf. O Verdadeiro Caminho da Iniciação de Henrique José de Souza (2001), p. 10. [11] Sociedade Brasileira de Eubiose.
Referências bibliográficas
Almeida, António (2007). Educação Ambiental: A importância da dimensão ética. Lisboa: Livros Horizonte.
Alves, Adalberto (2009). As Sandálias do Mestre. Lisboa: Ésquilo.
Bermudes, Félix (1974). A Conquista do Eterno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
Bhagavad Guitá (1999). Tradução de Teresa Antunes Cardoso. Lisboa: Editorial Estampa.
Blavatsky, H. P. (1995). A Doutrina Secreta, Vol. I. São Paulo: Pensamento.
Blavatsky, Helena (1998). A Voz do Silêncio. Lisboa: Assírio & Alvim.
Bruneti, Almir de Campos (1974). A Lenda do Graal no Contexto Heterodoxo do Pensamento Português. Composto e impresso na Editora Gráfica Portuguesa para a Sociedade de Expansão Cultural.
Cartas dos Mahatmas para A. P. Sinnett, Vol. I (2001). Brasília: Editora Teosófica.
Clouse, Robert G. (1995). São Francisco de Assis. In História do Cristianismo, pp. 272-273. Venda Nova: Bertrand Editora.
Davy, Marie-Madeleine (2005). Bernardo de Claraval, Monge de Cister e Mentor dos cavaleiros templários. Lisboa: Ésquilo.
Eliade, Mircéa (2000). Patañjali e o Yoga. Lisboa: Relógio d’Água.
Evola, Julius (1978). Os Mistérios do Graal. Lisboa: Vega.
Finucane, Ronald (1995). Uma época inquietante. In História do Cristianismo, pp. 330-350. Venda Nova: Bertrand Editora.
Gaarder, Jostein (2002). O Livro das Religiões. Lisboa: Editorial Presença.
Gonçalves, Alex Silva ; Schmidt, João Pedro (2015). Impactos do Consumismo: Ação estatal e participação comunitária. I Mostra Nacional de Trabalhos Científicos. UNISC. Obtido em janeiro de 2020, de:
https://www.researchgate.net/publication/342015376-Impactos-do-consumismo-Acao-estatal-e-participacao-comunitaria
Henson, Robert (2009). Alterações Climáticas: Sintomas – Ciência – Soluções. Porto: Livraria Civilização Editora.
Howarth, Stephen (2004). A Verdadeira História dos Cavaleiros Templários. Lisboa: Livros do Brasil.
Humphreys, Christmas (1951). Budismo. Lisboa: Ulisseia.
Jinarajadasa, C. (2014). Fundamentos de Teosofia. Brasília: Editora Teosófica.
Jung, C. G. (2019). Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Petrópolis: Editora Vozes.
Küng, Hans (1999). Os Grandes Pensadores do Cristianismo. Lisboa: Editorial Presença.
Leadbeater, C. W. (1921). Compêndio de Teosofia. Lisboa: Livraria Clássica Editora de A. M. Teixeira.
Leadbeater, C. W. (1999). Os Mestres e a Senda. São Paulo: Pensamento.
Quadros, António (2020). Portugal, Razão e Mistério: A trilogia. Loures: Alma dos Livros.
Robert, Jean-Noël (1997). O Budismo. In As Grandes Religiões, pp. 429-505. Lisboa: Editorial Presença.
Santos, Filipe Duarte (2007). Que futuro? Ciência, tecnologia, desenvolvimento e ambiente. Lisboa: Gradiva.
Silva, Agostinho da (2000). Ensaios sobre Cultura e Literatura Portuguesa e brasileira I. Lisboa: Âncora Editora.
Souza, Henrique José de (2001a). O Verdadeiro Caminho da Iniciação. S. Lourenço, MG: Conselho de Estudos e Publicações da Sociedade Brasileira de Eubiose.
Souza, Henrique José de (2001b). Os Mistérios do Sexo. S. Lourenço, MG: Conselho de Estudos e Publicações da Sociedade Brasileira de Eubiose.
White, Lynn (1967). The Historical Roots of Our Ecological Crisis. Science 155: 1203-1207. Obtido em janeiro de 2020, de:
http://www.cmu.ca/faculty/gmatties/ lynnwhiterootsofcrisis.pdf
Zanirato, Sílvia Helena ; Rotondaro, Tatiana (2016). Consumo, um dos dilemas da sustentabilidade. Estudos Avançados 30 (88). Obtido em janeiro de 2020, de https://www.scielo.br/pdf/ea/v30n88/0103-4014-ea-30-88-0077.pdf



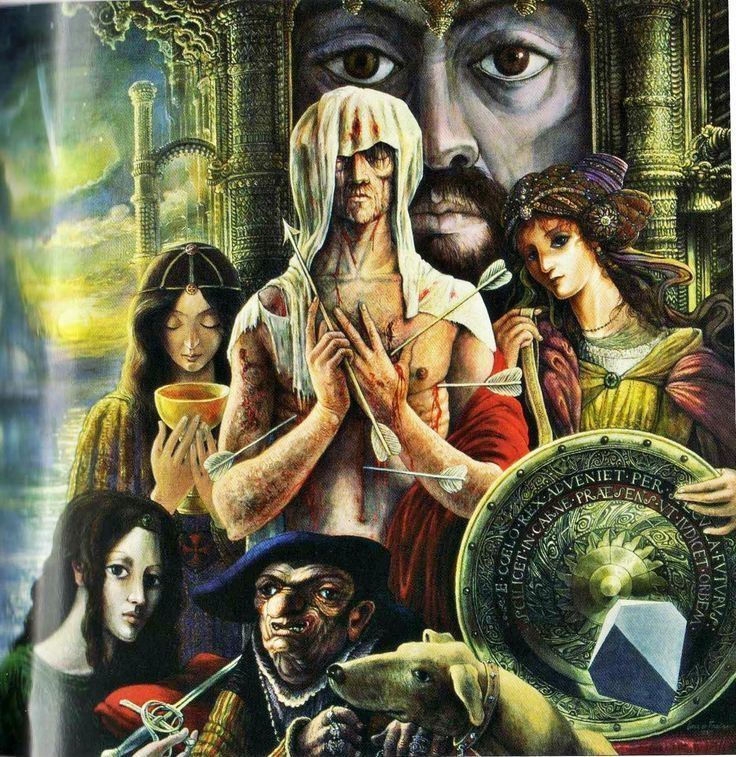
Comments